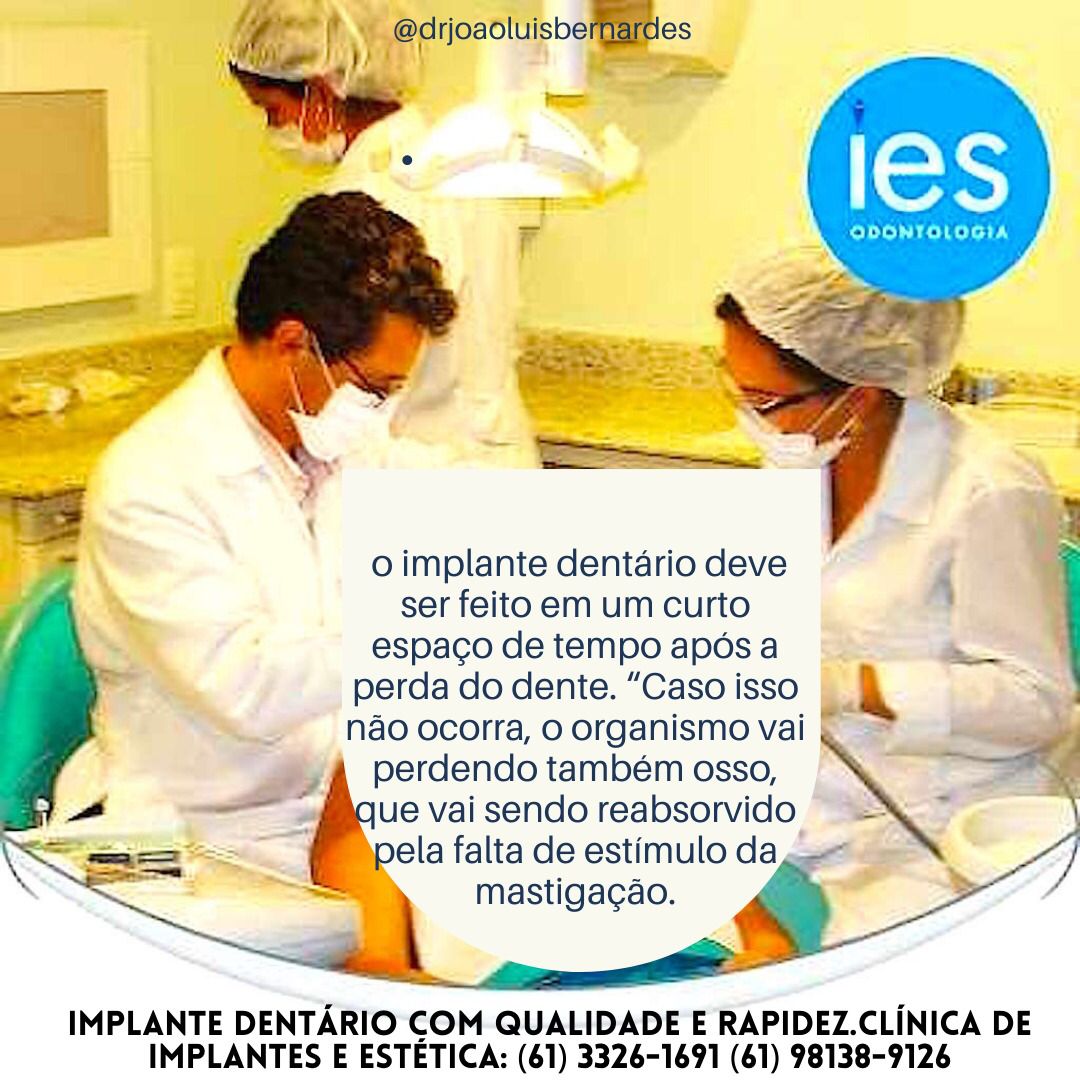A advertência de Lord Acton, “o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente”, atravessou mais de um século e ainda ecoa como um alerta quase profético diante da política contemporânea. O que parecia uma constatação moral sobre reis e imperadores do século XIX hoje encontra paralelos em presidentes eleitos democraticamente, líderes partidários e até mesmo governantes de instituições internacionais. A frase persiste porque toca em um ponto central da política: o poder não é apenas uma ferramenta de governar, mas também um teste permanente de limites éticos e institucionais.
Se voltarmos no tempo, fica claro como a concentração ilimitada de poder gerou regimes de opressão. Basta lembrar de Stalin, que transformou a União Soviética em um Estado policial, eliminando rivais e controlando a vida cotidiana dos cidadãos com base no medo. Hitler, por sua vez, levou a lógica do poder absoluto ao extremo, resultando em um regime genocida. Esses exemplos não são apenas fruto da vontade individual de tiranos, mas também da fragilidade ou inexistência de instituições capazes de conter seus avanços.
Na era democrática, seria tentador pensar que os riscos da corrupção absoluta desapareceram. No entanto, o século XXI mostra que eles apenas se transformaram. Líderes como Vladimir Putin, na Rússia, e Recep Tayyip Erdoğan, na Turquia, utilizam mecanismos eleitorais para legitimar mandatos sucessivos, enquanto ampliam o controle sobre a imprensa e o Judiciário. Em contextos diferentes, líderes de democracias consolidadas também cedem à tentação de esticar os limites institucionais em benefício próprio, como Donald Trump tentou fazer ao contestar a legitimidade das eleições nos Estados Unidos em 2020.
Filósofos e sociólogos ajudam a entender essa permanência. Maquiavel, no século XVI, já havia alertado que o governante precisa, muitas vezes, se afastar da moral comum para preservar o Estado. Isso abre espaço para que decisões duras se tornem rotina e, com o tempo, normalizem práticas que seriam vistas como abusivas. Weber, por outro lado, destacou que a legitimidade é o coração do poder político: quando líderes começam a confundir legitimidade com mero controle, a corrupção se instala. Foucault foi ainda mais longe ao argumentar que o poder não se concentra apenas no governante, mas se infiltra em instituições, discursos e relações sociais, produzindo formas de dominação que escapam ao olhar imediato da população.
A grande questão é que, em um mundo globalizado e hiperconectado, os riscos do poder absoluto não estão restritos a regimes autoritários clássicos. Mesmo em democracias, a concentração excessiva de poder no Executivo, a cooptação de tribunais ou a manipulação da opinião pública via redes sociais podem corroer lentamente os freios e contrapesos. Hannah Arendt lembrava que o poder, ao contrário da violência, depende do reconhecimento coletivo: quando esse vínculo se perde e o poder se apoia apenas na força ou na manipulação, a legitimidade desaparece, abrindo espaço para crises políticas e sociais profundas.
A frase de Acton continua sendo mais do que uma advertência moral; é uma chave de leitura para entender por que a política exige limites claros, instituições fortes e uma sociedade vigilante. Afinal, o poder não é um mal em si, mas, sem controle, transforma-se em um jogo de sedução onde até os mais bem-intencionados correm o risco de se perder.