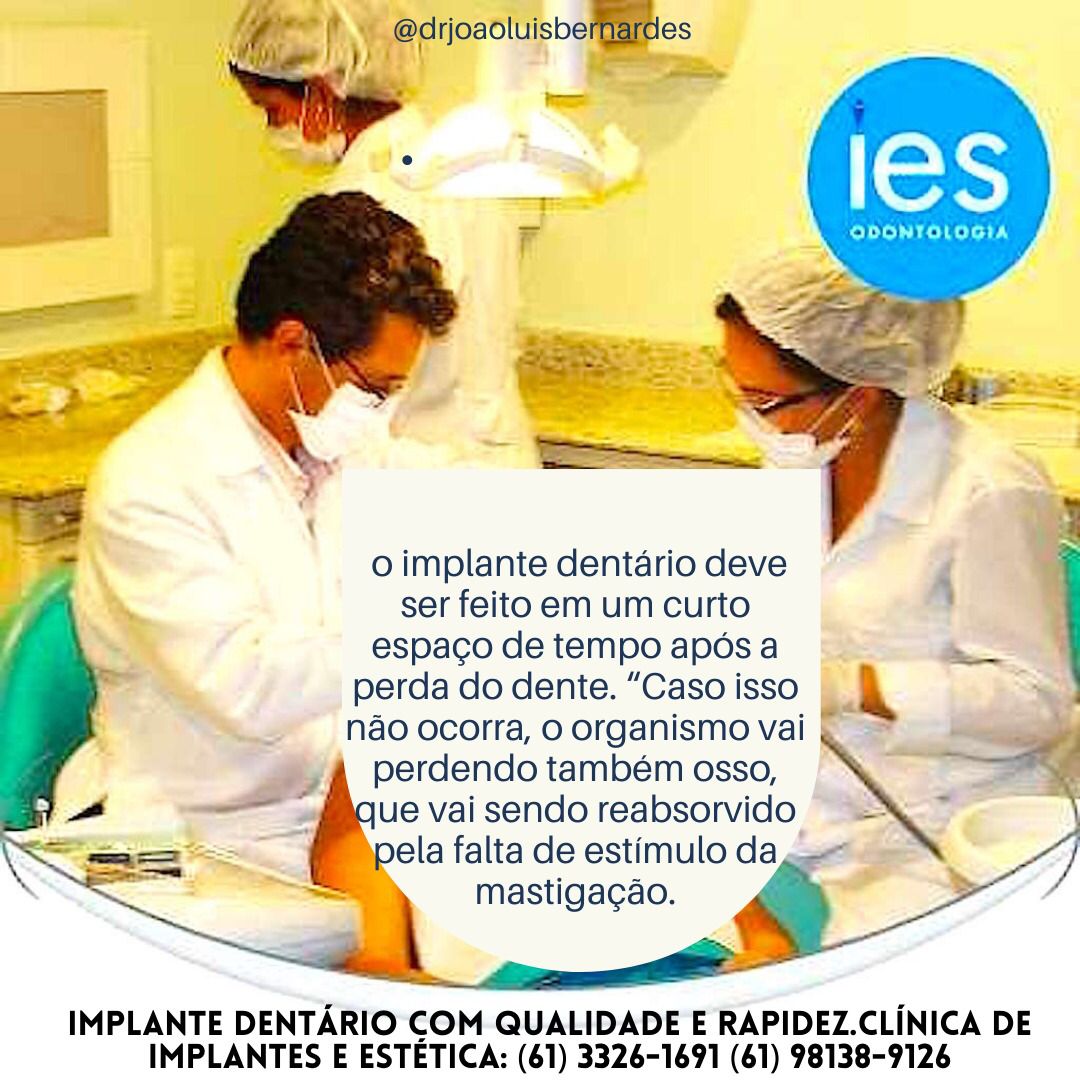Uma crônica sobre dias monótonos, repetidos e esticados da pandemia
Tenho percebido a falta de graça dos dias. São um aglomerado de inapetências. Às vezes reflito, às vezes durmo e acordo semanas depois: um transe sem gosto, sem amplitude.
A verdade é que vivemos, há quase dois anos, rodeados pela peste, e o paladar dotangível ainda não voltou. Está enfermo? Foi quebrado?
Demorei um pouco para entender a relação entre a fadiga dos dias e o tempo decorrido desde o começo desse apocalipse coletivamente pessoal . Mas eventualmente entendi. Vi que o poço se esgotou. Espreme-se o pano e não sai nada, ele fica mais molhado. Fica negativado de resultados e de ânsias.
É que há uma falta de lá e de aqui e de nós e de eles também. De outros, de novos, daqueles bons e velhos antigos. De sentimentos, de interações, de sensações, de experiências. Falta-nos tudo isso em demasia.
E, sem eles, tornamo-nos desatinados, inertes, presos e lentos. Pesados de telas, surdos de nós, fatigados de tudo, turvos aos olhos, ocos ao toque. Faz-nos uma falta tremenda a antecipação gostosa pelos eventos que gostamos—gostávamos. Vai chegar, vai chegar: seguimos à espera. Hoje, no entanto, o que nos resta é a apatia dos dias gêmeos.
Olhar para trás parece tão bom. A vida pré desgraça parecia ser mais colorida, mais pulsante. Mas será essa uma nostalgia artificial? Será que a vida não foi sempre assim, permeada por momentos esquecíveis, por suspiros desmotivados? Será que não vivemos desde sempre à espera de Godot?
Cogitei que a vida nunca tivesse sido pulsante, vívida. Cogitei verdadeiramente.
Mas não pode ser. A ruptura foi grande demais. A privação é profunda demais, nefasta demais. Este rasgo, este desmedido buraco em que vivemos é nítido e alarmante demais em relação aos dias passados. O melhor deve ter existido, creio bem. Deve ter havido momentos verdadeiros, inesquecíveis, com cores brilhantes e vento no rosto, com sons cálidos e com gana genuína. Volúpias sinceras, dias marcantes e energia de sobra.
A mudança nos tornou cinzas e cansados. Vivemos no limiar da estafa, sem proveito, sem foco, sem profundidade de campo, sem variação das velocidades.
Vivemos trancafiados em um quarto de hotel e não podemos sair para aproveitar a viagem porque lá fora uma nevasca fechou a cidade. Ou a cidade está interditada. Ou inundada. Ou tomada por asnos inconsequentes. Ou uma pandemia inviabilizou a vida conhecida — aquela com sabor. Sal e pimenta e afeto.
E estamos agora, pois que reina o cataclisma, impossibilitados de mais. Estamos restritos de lá. Privados de algures, do não-aqui. Vivemos aquém da realidade que poderia ser, alguma menos seca que esta.
Este é um quarto — um cárcere — cuja passagem do tempo é morna, cujas ações são estáticas. E permanecemos, portanto, aqui. Em silêncio, decaindo, recriando-nos, reconduzindo, à espera… à espera.
É um hausto — um fôlego amargo — pensar que nos mantivemos tanto tempo sob um prisma real, sob um cotidiano com mais resolução, quando o apetite pelas coisas era orgânico, quando conhecer e desconhecer era fácil. Hoje isso parece um tempo ermo, exclusivo do passado. Olhos se enchem, se umidificam.
Mas há de vir esse apetite. Hão de voltar o anseio e o brilho porque são conhecidos. E o que é conhecido sempre volta um dia. É como andar de bicicleta.

Por : João Marcelo Abbud